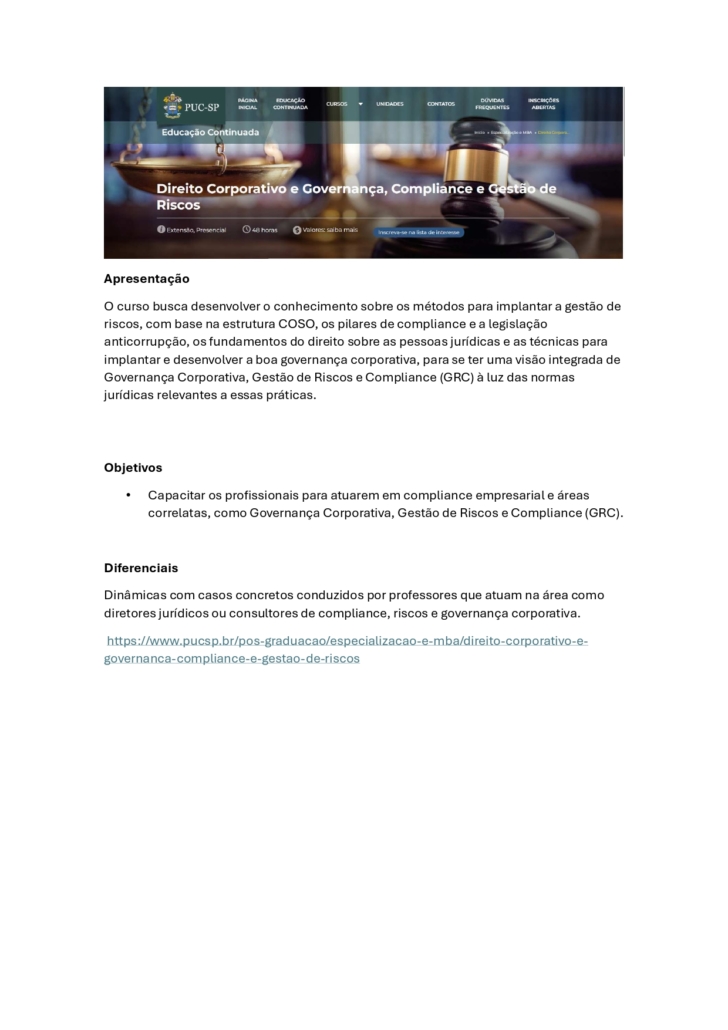O pagamento de honorários advocatícios tem preferência sobre o crédito tributário. Foi o que decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento virtual encerrado na última sexta-feira (28/3). O caso tem repercussão geral, ou seja, as demais instâncias da Justiça deverão seguir a tese estabelecida.
31 de março de 2025

Ministros validaram trecho do CPC com relação tanto a honorários de sucumbência quanto aos contratuais
A análise dizia respeito ao §14 do artigo 85 do Código de Processo Civil, que permite a atribuição dessa preferência.
O caso concreto era um pedido de reserva de honorários contratuais relativos a uma penhora feita em favor da Fazenda Pública. Na execução de sentença, esse pedido foi negado em primeira instância. O escritório de advocacia (titular dos honorários) recorreu.
Em seguida, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão e alegou que a regra do CPC é inconstitucional. Segundo os desembargadores, a Constituição exige lei complementar para estabelecer normas gerais em certos temas tributários, entre eles o crédito. Já o CPC é uma lei ordinária.
Outro argumento usado pela corte foi que o Código Tributário Nacional (CTN), desde a alteração promovida pela Lei Complementar 118/2005, dá preferência ao crédito tributário sobre qualquer outro, exceto créditos trabalhistas e de acidente de trabalho.
O escritório, então, recorreu ao Supremo e argumentou que a norma do CPC não trata de legislação tributária, nem de crédito, mas de honorários; que a regra promove a dignidade da pessoa humana e reforça a função indispensável do advogado para a administração da Justiça; e que a Constituição reconhece a natureza alimentar dos honorários.
Voto pela constitucionalidade
O ministro Dias Toffoli, relator do caso, votou por validar a regra do CPC quanto à preferência dos honorários sobre o crédito tributário. Ele foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Luiz Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia, Luís Roberto Barroso e Kassio Nunes Marques.
O relator apontou que a preferência se aplica não só aos honorários sucumbenciais, mas também aos contratuais — pois o §14 “possui autonomia parcial em relação à cabeça” do dispositivo e o Estatuto da Advocacia estabelece a natureza alimentar e autônoma não só dos honorários de sucumbência.
Toffoli ainda afirmou que o Legislativo federal poderia aprovar uma lei ordinária enquadrando os honorários no conceito de “créditos decorrentes da legislação do trabalho”, mesmo quando o advogado não está sujeito à CLT. A regra do CPC diz exatamente que os honorários têm “os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”.
Como esse tipo de crédito faz parte das exceções à regra geral do CTN, isso permitiria a preferência dos honorários sobre o crédito tributário.
Divergências
O ministro Gilmar Mendes sugeriu que o pagamento de honorários advocatícios só tivesse preferência em relação ao crédito tributário até o limite de 150 salários mínimos. Ele foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino.
Em seu voto, o decano do STF defendeu essa limitação como uma forma de equilibrar a arrecadação tributária com o recebimento de valores de natureza alimentar. Isso asseguraria a parcela necessária ao sustento do advogado, mas sem permitir a preferência, sobre o tributo, de valores elevados, que nitidamente extrapolem o conceito de verba alimentar.
Na sua visão, se o propósito do artigo 85 do CPC é garantir a verba alimentar crucial para o sustento do advogado, não é toda e qualquer quantia de honorários que deve ser considerada como tal.
“Definir um limite razoável significa propiciar o adequado exercício da atividade tributária, fundamental para o funcionamento do Estado Fiscal, o qual encontra na tributação a principal ferramenta para seu financiamento”, pontuou o decano.
Por fim, ele propôs a modulação dos efeitos da decisão para que esse limite só se aplicasse aos casos nos quais tais valores ainda não foram levantados pelos advogados. Isso impediria que honorários já pagos fossem reabertos para contestação por parte dos Fiscos brasileiros.
O ministro Cristiano Zanin concordou que a regra do CPC é válida e que deve haver uma restrição da preferência sobre o crédito tributário até o limite de 150 salários mínimos, mas entendeu que isso só valeria para os honorários contratuais. Ou seja, quanto aos honorários de sucumbência, que são estabelecidos pelos magistrados, o ministro manteve a plena preferência.
Outro ponto do voto de Zanin foi a modulação para impedir a devolução de valores já levantados que ultrapassassem o limite proposto.
Segundo ele, o §14 do artigo 85 regula apenas os honorários fixados pelos juízes. Já os honorários contratuais, estabelecidos em negócios autônomos e fora da relação processual, são regulados pelo Estatuto da Advocacia.
Mesmo assim, o magistrado reconheceu que os honorários contratuais podem ter um tratamento diferenciado, com restrições em comparação aos de sucumbência, já que sua “natureza negocial e ilimitada torna a verba mais suscetível a manipulações”.
Clique aqui para ler o voto de Toffoli
Clique aqui para ler o voto de Alexandre
Clique aqui para ler o voto de Gilmar
Clique aqui para ler o voto de Zanin
RE 1.326.559
- Por José Higídio – repórter da revista Consultor Jurídico.
- Fonte: Conjur