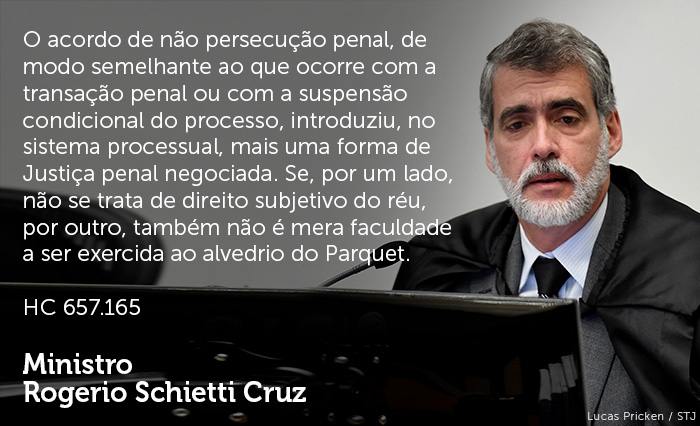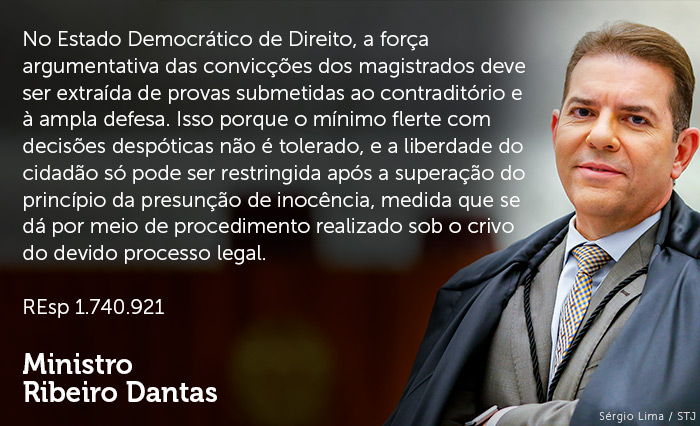13/02/2023
Disciplinado, em especial, nos artigos 4º a 23 do Código de Processo Penal (CPP), o inquérito policial tem por finalidade subsidiar o oferecimento da denúncia ou da queixa pelo titular da ação penal e tem sido classificado como peça de natureza administrativa.
Em que pese essa classificação, os procedimentos realizados no inquérito costumam receber bastante atenção, visto que o delegado de polícia está mais próximo ao ambiente do delito, o que, consequentemente, facilita a resolução dos crimes.
Criado em 1871, enquanto ainda vigorava o regime imperial, o inquérito policial passou por intensas transformações ao longo do tempo, principalmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual concebeu nova face ao direito penal e processual penal, à luz da dignidade da pessoa humana e do respeito aos direitos e às garantias fundamentais.
Com isso, o controle judicial da etapa investigativa passou a considerar todas essas evoluções históricas, sociais e políticas. Duração do procedimento, relevância desse instrumento para a apresentação da denúncia e validade da pronúncia feita apenas com base no inquérito são alguns dos temas já analisados pelo STJ.
Denúncia anônima exige verificação prévia
Ao julgar o RHC 139.242, a Quinta Turma determinou o trancamento de inquérito policial que apurava suposto esquema de pirâmide financeira, por entender que houve ilegalidade na instauração do procedimento exclusivamente com base em denúncia anônima.
“É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que há ilegalidade flagrante na instauração de inquérito policial que não foi precedida de qualquer investigação preliminar para subsidiar a narrativa fática da delação apócrifa”, afirmou o relator, ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O tribunal tem vários precedentes na mesma linha – que também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF). No HC 496.100, julgado pela Sexta Turma, o relator, ministro Rogerio Schietti Cruz, afirmou que “investigações iniciadas por delação anônima são admissíveis, desde que a narrativa apócrifa se revista de credibilidade e, em diligências prévias, sejam coletados elementos de informação que atestem sua verossimilhança”. Segundo o magistrado, ao receber uma denúncia anônima, a polícia não pode instaurar inquérito para averiguar sua veracidade.
“O que a denúncia anônima possibilita é a averiguação prévia e simples do que fora noticiado anonimamente e, havendo elementos informativos idôneos o suficiente, aí, sim, é viável a instauração de inquérito e, conforme o caso, a tomada de medidas extremas, como, por exemplo, a quebra de sigilo telefônico”, disse o magistrado.
Razoável duração do inquérito policial
No HC 653.299, a Sexta Turma do STJ decidiu pelo trancamento de inquérito policial que já perdurava por mais de nove anos. O colegiado entendeu que a situação violava o princípio da razoável duração do processo e impunha constrangimento ilegal ao investigado, que, mesmo não tendo sido submetido à prisão preventiva ou outra medida cautelar, conviveu durante todo esse tempo com o estigma de suspeito da prática de crime.
No voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Sebastião Reis Júnior afirmou que, sendo a razoável duração do processo uma cláusula pétrea no ordenamento jurídico brasileiro, torna-se inadmissível que um cidadão seja “indefinidamente investigado, transmutando a investigação do fato para a investigação da pessoa”.
O magistrado destacou ainda que o prazo para a conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio, ou seja, pode ser prorrogado conforme a complexidade das apurações. Entretanto, afirmou, “é possível que se realize, por meio de habeas corpus, o controle acerca da razoabilidade da duração da investigação, sendo cabível, até mesmo, o trancamento do inquérito policial, caso demonstrada a excessiva demora para a sua conclusão”.
“Ano que vem, o inquérito comemorará bodas de estanho – dez anos. Admitir essa demora será passar o pano para um evidente desinteresse do Estado em se estruturar para prestar dignamente suas funções”, declarou.
Leia também: Sexta Turma determina trancamento de inquérito que tramita há mais de nove anos
Peça dispensável para o oferecimento da denúncia
Em 2016, ao julgar processo sob segredo judicial, em que se questionou a nulidade de inquérito policial realizado pela Polícia Federal em crimes de competência estadual, a Quinta Turma reafirmou a jurisprudência do STJ de que eventual vício no inquérito não compromete a ação penal dele decorrente.
Relator do processo, o ministro Ribeiro Dantas disse que o inquérito é dispensável para o oferecimento da denúncia, podendo o titular da ação se valer de elementos informativos de outros instrumentos de investigação preliminar, inclusive da própria comunicação do fato criminoso.
No mesmo sentido entenderam a ministra Laurita Vaz (AgRg no AREsp 1.374.735) e os ministros Antonio Saldanha Palheiro (AgRg no AREsp 455.832) e Joel Ilan Paciornik (AgRg no AREsp 1.392.381).
“Eventual vício na prisão em flagrante ou no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti“, afirmou Laurita Vaz ao relatar o AgRg no AREsp 1.374.735.
Falta de confissão do réu na fase inquisitorial
Em agosto deste ano, a Sexta Turma entendeu que a ausência de confissão do autuado durante o inquérito policial não impede que o Ministério Público analise o oferecimento do acordo de não persecução penal (HC 657.165). A relatoria foi do ministro Rogerio Schietti Cruz.
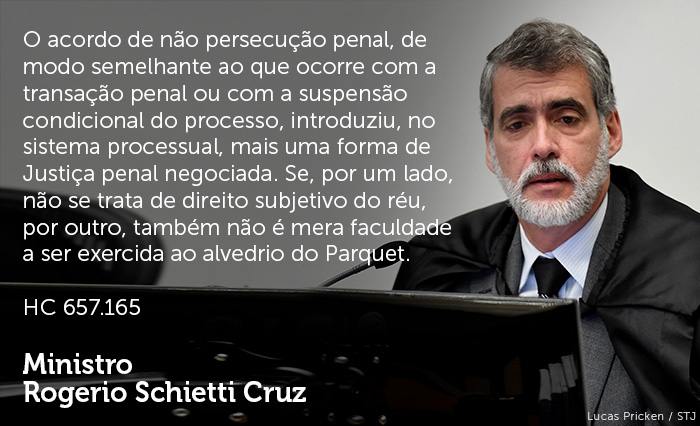
Na ocasião, o colegiado anulou decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), o qual manteve sentença que negou pedido de remessa dos autos ao procurador-geral de Justiça – feito pela defesa de um acusado de tráfico de drogas após o membro do Ministério Público ter deixado de oferecer o acordo –, ao argumento de que o acusado não havia confessado o delito na fase do inquérito.
O juiz fundamentou ainda que o acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do acusado, mas uma faculdade do órgão acusador.
No STJ, o relator, ao determinar a remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público, destacou que o acordo de não persecução penal é um instituto despenalizador que busca a otimização do sistema de Justiça criminal, por isso não pode deixar de ser aplicado sem justificativa idônea.
Schietti afirmou que a exigência de confissão ainda na fase policial poderia levar a uma autoincriminação antecipada, apenas com base na esperança de oferecimento do acordo, que pode nem ser proposto devido à falta dos requisitos subjetivos ou por algum outro motivo.
Oferecimento de denúncia contra parte dos investigados
Ao julgar a APn 989, a Corte Especial, sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi, fixou que, pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal, o oferecimento de denúncia em desfavor de alguns investigados no inquérito não gera arquivamento implícito para os não denunciados, em relação aos quais as provas sejam insuficientes no momento.
O caso analisado pelo colegiado teve origem em denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra 18 indiciados por crimes diversos, especialmente contra a administração pública, envolvendo, entre outros acusados, o então governador do Rio de Janeiro, desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, juízes do trabalho e advogados.
“O Parquet, como dominus litis, pode aditar a denúncia, até a sentença final, para a inclusão de novos réus, ou, ainda, oferecer nova denúncia a qualquer tempo”, afirmou a relatora.
Ilegalidade da pronúncia baseada apenas no inquérito
Aplicando a orientação firmada pelo STF no HC 180.144, a Sexta Turma, em decisão unânime, mudou seu entendimento e concedeu habeas corpus a um réu que havia sido mandado a júri popular tão somente em razão de provas produzidas durante o inquérito policial. Além de despronunciar o réu, o colegiado revogou sua prisão preventiva (HC 589.270).
Em seu voto, o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, destacou que o princípio da presunção de inocência, positivado na Constituição Federal, impõe ao Ministério Público, como órgão acusador, a responsabilidade de comprovar suas alegações em todas as fases e todos os procedimentos do processo penal.
Ele salientou que a concretização dos princípios do contraditório e da ampla defesa, também constitucionalmente previstos, impede que a sentença de pronúncia tenha por base exclusiva provas não confirmadas na fase judicial.
“Objetivando reposicionar o entendimento desta Sexta Turma, entendo que é ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal“, concluiu o ministro.
Dessa mesma forma já havia decidido a Quinta Turma no REsp 1.740.921, ao negar a pronúncia de um acusado de homicídio cuja denúncia se baseou apenas em prova colhida em inquérito – momento em que não há contraditório e ampla defesa. O colegiado ponderou que seriam necessários outros elementos de prova produzidos judicialmente para submeter o réu ao tribunal do júri.
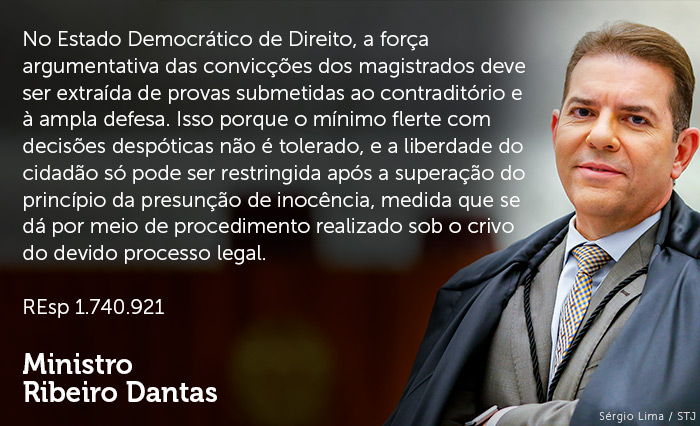
“A prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal”, afirmou o ministro Ribeiro Dantas, relator
Inquérito arquivado por reconhecimento de legítima defesa
Promovido o arquivamento do inquérito policial pelo reconhecimento de legítima defesa, a coisa julgada material impede rediscussão do caso penal em qualquer novo feito criminal, descabendo perquirir a existência de novas provas.
Esse foi o entendimento da Sexta Turma ao julgar, em 2014, o REsp 791.471, de relatoria do ministro Nefi Cordeiro. O colegiado destacou que a permissão legal de desarquivamento do inquérito pelo surgimento de provas novas (artigo 18 do CPP e Súmula 524 do STF) somente tem incidência quando o fundamento do arquivamento foi a falta de provas sobre indícios de autoria e de ocorrência do crime.
O caso analisado pelo colegiado tratou da investigação de duas mortes atribuídas a policiais civis que tentaram repelir agressão durante uma tentativa de resgate.
“Pensar o contrário permitiria a reabertura de inquéritos por revaloração jurídica e afastaria a segurança jurídica das soluções judiciais de mérito, como no reconhecimento da extinção da punibilidade (por morte do agente, prescrição…), da atipia ou, como na espécie, de excludentes da ilicitude. A decisão judicial que define o mérito do caso penal, mesmo no arquivamento do inquérito policial, gera efeitos de coisa julgada material”, afirmou o relator.
No RMS 66.734, de relatoria do ministro João Otávio de Noronha, a Quinta Turma entendeu como válido o desarquivamento de inquérito para desconstituir decisão inadequadamente fundamentada. No julgamento, a turma determinou a revisão de arquivamento de inquéritos sobre fraude de mais de R$ 2,5 milhões.
“A decisão de homologação de arquivamento de inquérito judicial admite controle judicial em casos excepcionais, quando proferida em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente”, destacou o relator.
Leia também: Quinta Turma determina revisão de arquivamento de inquéritos sobre fraude de mais de R$ 2,5 milhões
Morte de civil por militar
Ainda sobre o tema, a Terceira Seção do STJ, em julgamento de 2016, definiu que, em crime doloso praticado por militar contra a vida de civil, a competência para julgamento é da Justiça comum – especificamente, do tribunal do júri, não sendo permitido à autoridade judiciária militar arquivar precocemente o inquérito ao argumento de que houve legítima defesa ou qualquer outra causa excludente de ilicitude (CC 145.660). A relatoria foi do ministro Rogerio Schietti.
Segundo os autos, foram abertos dois inquéritos paralelos, um perante a Justiça criminal comum e outro perante a Justiça Militar, para apurar a conduta de policiais militares acusados de matar dois assaltantes com os quais trocaram tiros.
No inquérito promovido pela Justiça Militar, o Ministério Público reconheceu a competência da Justiça comum e requereu a remessa dos autos. Porém, entendendo que os policiais agiram em legítima defesa, o juiz auditor da Justiça Militar considerou que a competência seria sua, não do tribunal do júri, e arquivou o inquérito.
O relator afirmou que, apesar da existência de precedentes do STJ no sentido de autorizar o juiz militar, quando avalia sua própria competência para o caso, a examinar eventuais fatores que excluam a ilicitude da conduta sob investigação, a Constituição e as leis definem claramente a competência da Justiça comum – especificamente, do tribunal do júri – para os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra civis.
Arquivamento do inquérito em ação penal pública incondicionada
Ao julgar mandado de segurança que tramitou em segredo de justiça, a Quinta Turma entendeu que a vítima de crime de ação penal pública incondicionada não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou de peças de informação. A relatoria foi do ministro Raul Araújo.
O processo analisado pelo colegiado se referia a um caso de suposto estupro de vulnerável, que, por não ter sido constatado por laudo do IML nem por avaliação psicológica do menor e da família, teve o inquérito policial arquivado. Os pais da criança questionaram, porém, a decisão foi mantida.
“Uma vez verificada a inexistência de elementos mínimos que corroborem a autoria e a materialidade delitivas, pode o Parquet requerer o arquivamento do inquérito e o juiz, por consequência, avaliar se concorda ou não com a promoção ministerial. Uma vez anuindo, fica afastado o procedimento previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal, sem que, com isso, seja violado direito líquido e certo da possível vítima de crime de ver processado seu suposto ofensor”, concluiu o magistrado.